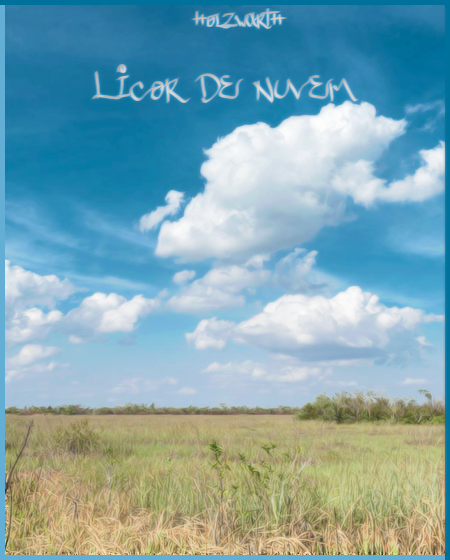O céu matutino perolado era tingido de laranja, roxo e dourado pelos primeiros raios de sol que tocavam a nascente no topo das montanhas. O vale vazio e sem árvores se estendia abaixo dos pés nus e escuros da encosta rochosa, íngreme, úmida. No meio da clareira castanha, fincava-se uma casa solitária e simples, cujas pontas vermelhas do telhado furavam a cerração cinza, baixa e espessa.
O Caseiro varria a varanda de mogno, seguido por sua sombra longa, de dedos compridos e disformes, que agarravam o cabo torto tremulamente.
Conforme o sol subia até o cume, em horas lentas e longas e frias, o menino se remexia na cama, debaixo das peles de corsa e carneiro. Se estivesse sendo acometido por sonho tão ruim quanto à queda de cima do pico ou quanto um tropeço para dentro do poço no meio do bosque onde cantavam os sanhaços distantes, acordaria num salto e correria até a cozinha, para buscar conforto na figura encurvada e silenciosa do outro lado dos vidros sujos. Ao invés disso, porém, continuava deitado, suando frio em sua tábua de gelo, balançando a cabeça e os braços para o lado, como quem faz um anjo na neve.
Quem acordou Lucio de seu pesadelo febril foi a cachorra, um dos doze cães pastores, que corriam atrás das ovelhas pela grama baixa da campina, tecendo em seus fios os fractais brilhantes e coloridos como a lente de um caleidoscópio. O focinho molhado tirou o menino do meio da grama alta embaixo do céu trincado, que deixava chover pingos congelados e congelantes, em formato de dentes de puma, para rasgar-lhe a pele do crânio e cortar seus olhos fora. Então, os corvos esperavam para devorá-lo vivo, grasnando num frenesim barulhento de quando encontram uma carcaça recém-morta de um carneiro perdido do rebanho.
Olhou para a cadela e se levantou, mas não a tocou: suas mãos doíam; estava cansado. O animal felpudo o lambeu na perna, e seus olhos de mulher velha escorreram pela testa estreita. Ela bateu o queixo. Quis saber se fizera bem aquela noite de tê-lo contado histórias sobre o Pai e sobre o monte de rochas pretas e sobre a água do fundo da terra e sobre o pôr-do-sol do outono atrás da nascente. Quis dizer-lhe mais um bocado de coisas, mas seus olhos já estavam no meio da cara, presos no buraco do focinho, e a cabeça derretida como um querubim de cera pendia para o lado como as das lebres mortas pela flechada do arco de vime. Sua insistência não moveria os lábios dele; então, a cachorra surda se levantou e saiu em silêncio, mancando.
A ventania lá fora o fez tremer de cima a baixo, de um lado a outro, e, quando chegou à cozinha, o Caseiro ofereceu-lhe um cobertor, uma calça, se quisesse. Sem fitá-lo, Lucio negou; negou e negou mais cem mil vezes sem fitá-lo. A irmã não podia saber que conversava com o Caseiro ou que havia aceitado uma sugestão dele para vestir-se melhor a fim de espantar o frio. Ela ficaria muito brava se soubesse e, então, o colocaria no banho e, depois, na cama feita de gelo, como faziam com os loucos no asilo. Diante da resposta, o Caseiro deu de ombros e voltou a regar o canteiro de prímulas e papoulas em volta da varanda.
Pelos pés do monte entalhado na meia-lua, pastoreavam doze cães as doze ovelhas em ondas e curvas chiadas pela costa do mar ao leste longínquo. A cadela surda estava deitada na cozinha, debaixo do fogão onde se punha a lenha, encolhida e enrolada no próprio corpo preto e branco. A cauda peluda se agitou para Lucio quando ele apanhou o bule de chá. Ela quis saber sobre o sonho, se ainda desejava comer bolo de morango ou se a Mãe ainda queria cortar seus braços ou se ele ainda queria se deitar debaixo do sol pálido. Lucio bebeu o chá frio, sem dizer nada à cachorra velha, que voltou a dormir. Atrás das persianas abertas, o rebanho deslizava pela grama, coordenado como uma esquadrilha. Os cachorros saltavam na relva e agachavam junto ao solo, corriam depressa e trotavam devagar. Os cães coloridos trouxeram os animais para perto e mais perto, enquanto o Caseiro dava água às flores debaixo da bétula ao lado da janela do quarto de Lucio.
Daphne chegou e apeou do cavalo marrom. Amarrou-o no único poste de cerca fincado à terra preta do caminho que serpenteava desde a porta de casa até o começo da grama da campina. O corcel bocejou, resfolegou, espreguiçou-se e dormiu. Balançou o rabo e pincelou quatro cães atrás de si, esbaforidos e de línguas penduradas na boca, suando torrentes pelos pescoços plumosos. Alguns cumprimentaram o Caseiro, deram-lhe beijos nas botas e pediram-lhe bênçãos; outros se estiraram no chão. Ninguém entrou na casa, ainda sem forças em pleno meio-dia, quando Daphne disse a Lucio que pretendia matar um peru.
— Eu vou cozinhá-lo — disse, e Eco imitou-a no corredor vazio. — Vou fazer uma sopa para você.
Não seria ela que mataria, nem ele. Seria o Caseiro com uma faca cega em mãos e uma cadela surda em seus pés e mais onze outros cachorros prontos para pegar a ave caso ela tentasse fugir do patíbulo. Lucio ficaria no quarto, para não ouvir os gritos de horror do peru quando sua cabeça fosse mastigada pelo gume gasto da lâmina do Caseiro.
Por dias, ainda ouviu os guinchos do animal, os ossos se partindo, o sangue escorrendo. Chegou a vê-lo acima da porta do quarto, de braços abertos, trajando boné e bermuda, vendendo o jornal da quarta, da quinta e da sexta, como costumava fazer quando ainda era menino e vivia na cidade. Era grande, enorme como uma pessoa, sem penas, mas pelos a cobrir-lhe o corpo rosado. No topo do pescoço retalhado, costurava-se uma cabeça de homem com os olhos da cadela surda que dormia no meio da sala. Lucio não falou com ele ou o ouviu pedir um centavo: fingiu estar dormindo para que fosse embora depressa. Assim o fez em todas as três vezes em que ele foi visitá-lo no crepúsculo de outono até que desaparecesse na penumbra de seu quarto.
Quando chegou o sábado, era a vez do Caseiro preparar leite quente com canela; ao lado de Daphne no fogão a lenha, arrulhavam como o par de pombas em cima do telhado. Do quarto, Lucio conseguia ouvi-los, mas não entendê-los. Conversavam, riam, falavam a língua das bolhas ferventes do caldeirão de ferro ao fogo. O aroma do desjejum atiçou a cadela, que foi visitar o menino para que ele pudesse despertar. Já acordado, Lucio lhe disse que não queria ir à cozinha. Daphne estava lá. O Caseiro também. Ela, porém, insistiu, bateu o queixo banguela e grisalho, fincou o pé no chão. Subiu em suas duas patas como gente em pé, apontou para a porta, roncou grave, balançou a cabeça. Ele se levantou da cama, dolorido como se fossem as montanhas no fim da campina que o tivessem esmagado na noite anterior — embora elas soubessem muito bem o nome e o rosto de quem o havia espremido como um balde cheio, vindo do poço, amassa a delicada grama verde.
Os rasgos e os buracos das roupas puídas enfileiradas no varal taparam os olhos, horrorizados, quando os braços de Lucio foram amarrados ao lado da cama por forte lençol de linho grosso. Ele gritava que a lua no céu o olhava com um quintilhão de olhos e o carneiro na campina andava com uma única perna. Ele gritava como os loucos desvairados no manicômio e como o trem fumegante na estação. Quando derramou todo o leite quente e, logo em seguida, o chá fervente em cima da saia de Daphne, ela lhe disse que já bastava, cansada e enfurecida.
Depois de sair cravando os pés nas tábuas, voltou de repente pisando manso como um grande lobo cinzento a espreitar, envolto em escuridão, o pequeno cordeiro tão ansiado por sua fome. Cravou as presas em sua jugular, mordeu-o, sacudiu-o, chacoalhou-o. Seus frangalhos flutuaram por sobre o ar e por sobre os guinchos tais quais os de um pequeno coelho quando é preso nas garras de uma grande águia. Assim que o largava, pouco tempo depois, retomava-o de novo. Não o matava, embora Lucio o quisesse — como o queria em todas as noites que eram iguais àquela.
O céu estilhaçado da noite não se atreveu a espiar por muito mais tempo, e todas as suas estrelas fecharam os olhos. A cadela surda, que ficara do lado de fora do quarto, aos prantos e agitada, latia, sem ver e sem ouvir nada:
— O que está fazendo com meu menino? — Em troca, recebia o silêncio de suas orelhas fechadas.
Lucio encolheu-se entre as cobertas quando Daphne enfim o libertou, a uma hora que o sol ainda não tivera coragem para nascer. Viu-a levantar, viu-a sorrir, viu-a sair. Ainda assim, permaneceu imóvel. Dormiu esmagado sobre o peso dos olhos da lua, todos entalhados na carranca dentada e sanguinolenta da mulher em sua cozinha.
Sua ida até lá se fez a passos lentos, cautelosos tais quais os pernilongos que caminham sobre as águas plácidas do cocho do cavalo. O Caseiro apoiava-se no balcão da cozinha e segurava um copo cheio de leite com canela, cujo aroma enfeitiçava a cozinha com o perfume das manhãs de outono. Daphne, distraída, descascava uma dúzia de cenouras ainda úmidas de lavagem recente e tinha, ao seu lado, uma cesta de batatas esperando pela escova e pela água. A cadela surda se deitava à soleira da porta aberta, embalada pelo crepitar do fogão à lenha aceso há pouco.
O Caseiro não o olhou, mas certamente o havia percebido: ouvira, em sua mente esfarelada pelas mãos frias de Daphne, o sussurro que mandava Lucio apanhar o toco seco e longo muito distinto dos demais, que se sentava, de pé, ao lado da cesta recém-cortada. A cadela surda dormia debaixo do arco de madeira escura do batente, longe de ser desperta pela fúria que inflamou os olhos de Lucio.
Apanhou a madeira pesada e a empunhou como um taco. O ruflar de suas roupas amassadas trouxe o rosto de Daphne para sua direção. Num só golpe, acertou o toco de lenha contra a face da mulher, e ela cambaleou para trás, aturdida. Sem tempo para gritar, recebeu outro golpe contra o queixo e mais outro contra a testa e mais um contra o topo da cabeça. Daphne estava estirada no chão, numa poça de sangue, ossos e o que mais pudesse caber dentro de sua cabeça nefasta, recheada de carniça de carneiro, penas de peru e olhos caídos das estrelas. O Caseiro bebeu um gole de leite quente e perfumado, que sujou seu bigode grisalho de branco. O lado esquerdo de sua face torcia-se numa cicatriz vermelha e seca e mostrava ao mundo a parte superior de sua mandíbula repleta de dentes amarelos e a carne fina de seu rosto, sem vergonha do próprio horror.
Lucio largou o pedaço de lenha, que caiu, pesado, no chão da cozinha, e rolou até seus pés gelados e descalços. Trotou até o Caseiro e lhe pediu para ir embora de volta para casa ou, pior, de volta para a escola.
— Não podemos voltar para a escola. Você está muito atrasado, Lucio — disse o Caseiro, finalmente repousando o copo de leite em cima da bancada. Serviu mais e sorveu mais, ainda não satisfeito.
A cadela surda se levantou e se espreguiçou como gente, de pé nas patas de trás. Abriu a porta e os cães que ladravam lá fora invadiram a casa encharcada de morte. Famintos, devoraram o corpo ainda trêmulo de Daphne enquanto riam extasiados, banqueteando-se no sangue doce e carmesim que empapava o chão de madeira. Comeram-lhe, primeiro, as mãos, depois o rosto, depois os intestinos; pelo pequeno feto em sua barriga, lutavam aos urros e rugidos. No fim, foi a cadela surda que o comeu inteiro; mastigou-o com sua boca sem dentes, sorriu, lambeu os beiços, chupou os dedos das patas, gargalhou.
O Caseiro bebeu o resto do leite em seu copo e bateu na barriga, satisfeito. Com os dedos ossudos que lhe restavam, bagunçou os cabelos longos de Lucio, mais alto do que da última vez em que ficaram lado a lado.
— Vamos? — Estendeu-lhe a mão e, do lado de fora, o sol estava se pondo, gelado.