Com minha aquarela, consigo pintar todos os tons de vermelho do céu, onde se pendura o grande espelho, emoldurado por floreios caprichados da cor do cobre. Eles imitam as árvores queimadas e torcidas da floresta desolada, destruída pelo fogo de seus olhos carmesim, que encaram o reflexo turvo de sua silhueta com cabeça de cão. Nosso criador caminha sobre os campos nus e vazios, com seus pés descalços afundados na grama seca e alta, ainda ardendo em brasa cor de âmbar.
Na cama de lençóis escarlate, desenhei com meu pincel os relâmpagos que centelham atrás das nuvens pálidas, sem anjos para dormir em cima delas. Não há ninguém no céu além do espelho, que me mostra a figura do nosso criador, apoiado nas mãos e nos quartos traseiros, com a boca arreganhada e quatro línguas grossas pendendo de sua mandíbula. Ele se contorce, mas não faz barulho: de cima da minha cama coberta por uma colcha de cetim, eu consigo ver o nosso criador, que vomita todos os seus filhotes.
Os cachorros caem no chão seco e quente, contorcendo-se como as minhocas que outrora fervilharam na terra. Em suas costas arqueadas e peludas, pulsam bolhas amarelas de pus, enquanto eles crescem, crescem, crescem e crescem, até ficarem grandes como corcéis de corrida. Da boca do nosso criador, saem todos os seus filhotes, que, famintos, se alimentam de seus irmãos natimortos, ainda de olhos fechados e sem um coração para bater atrás do peito.
Trovões estouram em suas gargantas incandescentes, e seus latidos sacodem a terra e o céu. Insaciáveis, os filhotes do nosso criador correm pela campina e pulam para alcançar as últimas estrelas ainda penduradas no firmamento. Nas mandíbulas de dentes serrilhados, morrem os diamantes que enfeitavam as noites de lua nova, azuis como os rios que já cortaram o vale e o bosque. Em seu jaleco branco, nosso criador seca as mãos sujas de sangue, vermelho como o céu da noite sem estrelas.
Não consigo desenhar tantas feras em uma página, famintas pelos astros distantes que ainda não sumiram da coleção dos serafins. São muitas, mais do que meus olhos podem ver. São tantas, mais do que eu consigo contar. São milhões, uma legião de bestas que devastam os continentes. Posso, no entanto, rabiscar o sol, o grande globo ocular que nos assiste arrasar a terra, despetalando-a como uma pequena margarida branca.
— Não há mais vida além daqui — diz-me o espelho. — Logo eles devorarão a supernova, e nosso universo se estilhaçará nas mandíbulas das feras. Haverá apenas a escuridão, o medo e os trovões.
— Está tudo bem — digo, com o lápis vermelho seguro em minhas mãos e a aquarela sobre meu colo. Ao longe, a legião abocanha a última constelação que brilhava no céu, e um trovão soa perante a morte das estrelas. — Nosso criador nos dará outro, e outro, e outro. Não há com que se preocupar.







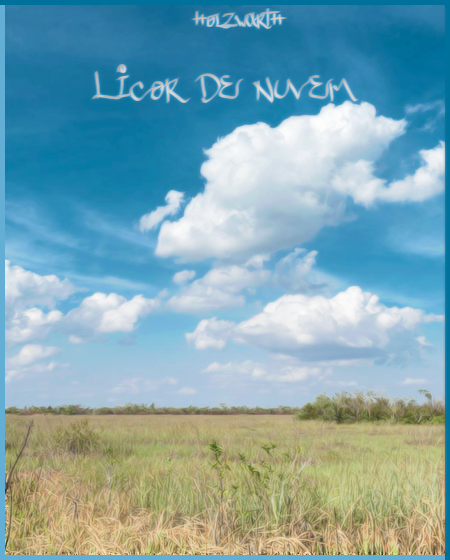












.png)